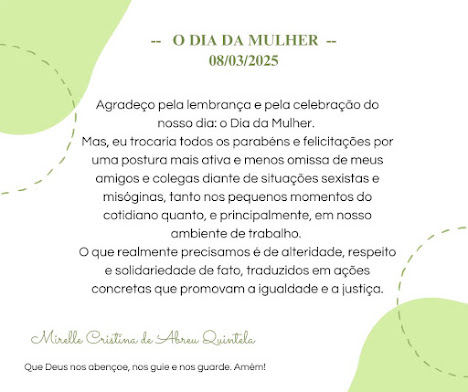Mirelle Cristina de Abreu Quintela
A
estrutura de governança de uma universidade pública federal é um elemento
crucial para garantir a transparência, a ética, a eficiência e a justiça na
gestão dos recursos públicos e na tomada de decisões que impactam toda a
comunidade acadêmica. Ela deve ser pensada de forma a promover boas práticas de
gestão, integridade e transparência, com o objetivo de minimizar conflitos
éticos e garantir que as decisões de um Colegiado Superior sejam tomadas em
prol do melhor interesse coletivo e da melhor gestão da Coisa Pública.
Os
Colegiados Superiores são instâncias decisórias fundamentais nas universidades
públicas, e focar neles reforça a relevância do tema para a governança e a
integridade institucional. Para garantir seu bom funcionamento, é essencial
adotar mecanismos e esforços pertinentes, como a independência dos
conselheiros, a clareza nos processos decisórios e o fortalecimento de uma
cultura institucional pautada pela ética e pela responsabilidade. Tais medidas
não apenas preservam a credibilidade da instituição, mas também reforçam o
compromisso de seus dirigentes com a sociedade, assegurando que os recursos
públicos – humanos e financeiros – sejam utilizados de forma eficiente e
alinhada aos princípios da administração pública. Dessa forma, contribuem para
a promoção da justiça social e para o cumprimento da missão das universidades
como agentes de transformação e desenvolvimento.
No
contexto universitário, em que o reitor, autoridade máxima da instituição,
acumula a função de presidente do Colegiado Superior e tem o poder de nomear
parte significativa dos membros do colegiado – incluindo os pró-reitores e
cargos equivalentes, que ocupam cadeiras por função –, são iminentes os
questionamentos sobre isonomia, prudência e ética nas práticas de gestão e
governança institucional. Esses questionamentos, relevantes e fundamentais para
assegurar o interesse público e uma gestão mais eficiente da Coisa Pública,
demandam uma análise cuidadosa e criteriosa, baseada em normativos existentes e
em diretrizes de boas práticas de governança nacionais e internacionais. O
objetivo dessa análise é identificar e recomendar ajustes que fortaleçam a integridade
institucional e promovam a transparência nas decisões.
Um
exemplo prático desse desafio ocorre quando o presidente do conselho adota uma
postura mais ativa, defendendo ou rejeitando encaminhamentos específicos. Nesse
cenário, surge o risco de influência indevida sobre os demais membros, o que
pode comprometer a isonomia e a independência do colegiado – elementos
essenciais para a legitimidade e integridade das decisões institucionais. Essa
dinâmica, portanto, representa uma das principais implicações a serem
consideradas no contexto da governança universitária.
O
presidente, por ocupar uma posição de liderança e representar a autoridade
máxima da universidade, exerce naturalmente uma influência significativa sobre
os demais conselheiros. Quando ele se posiciona de forma assertiva – seja antes
de uma discussão ampla e democrática, seja após o encerramento dos debates –,
pode produzir um viés que inibe o debate plural e a livre manifestação de
opiniões divergentes. Essa dinâmica contraria princípios básicos de gestão e
governança, como a independência dos conselheiros e a equidade no processo
decisório, recomendados por organizações como o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) e a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais implicações se estabelecem de forma
fática, independentemente da probidade, idoneidade ou intenções democráticas do
dirigente máximo da instituição.
A
isonomia, entendida como a garantia de tratamento igualitário a todos os
membros do conselho, pode ser comprometida quando o presidente recomenda
explicitamente como os demais devem votar. Essa prática não apenas desequilibra
o processo deliberativo, mas também pode ser interpretada como uma forma de
indução ou até mesmo de coação, ainda que indireta. Nesse contexto, a prudência
e o cuidado com os princípios éticos recomendam que o presidente atue como
facilitador do debate, assegurando que todos os pontos de vista sejam
considerados, sem direcionar ou influenciar o voto dos conselheiros. O Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, por exemplo, enfatiza
a importância da neutralidade e da imparcialidade na condução de reuniões
colegiadas, bem como a promoção de condições que favoreçam essas qualidades.
Tais práticas visam ao interesse maior da instituição e ao seu desenvolvimento
íntegro e sustentável.
Outro
ponto crítico na organização de um conselho é a recomendação de que o
presidente seja o primeiro a votar e que os demais membros sigam sua
orientação. A existência de uma previsão regimental nesse sentido, ou mesmo a
adoção informal dessa prática, pode gerar um efeito de “arrastamento”, em que
os conselheiros se sentem pressionados a alinhar seus votos ao do presidente –
seja por respeito à sua autoridade, confiança em sua pessoa ou receio de
repercussões negativas. Esse cenário torna-se ainda mais problemático quando o
presidente também é o gestor máximo da instituição em questão e, portanto, tem
interesse direto na aprovação de proposições apresentadas por sua própria
equipe administrativa. Nesse caso, surge um claro conflito de interesses, que
pode prejudicar o melhor interesse da instituição. Normativas internacionais,
como as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) para governança pública, destacam a necessidade de evitar conflitos de
interesse e de garantir que as decisões sejam tomadas com base em critérios
objetivos e transparentes. Vale ressaltar que o intuito da OCDE é promover não
apenas o desenvolvimento econômico, mas também o bem-estar social.
No
contexto das boas práticas de governança institucional e gestão da coisa
pública, utilizar o direito de fala para recomendar um voto após o término das
argumentações pode ser interpretado como uma estratégia para influenciar
indevidamente o processo decisório. Embora o presidente do conselho tenha o
direito e o dever de se manifestar, sua fala deve ser equilibrada e neutra,
especialmente diante de sua posição de poder. A manifestação, portanto, deve
ser tempestivamente apropriada, ocorrendo no momento mais propício e menos
suscetível à geração de conflitos éticos.
A
prática de fazer recomendações de voto ao final do debate pode afetar
negativamente a credibilidade e a eficácia do processo decisório, criando um
ambiente de desconfiança, insatisfação e desconforto organizacional entre os
conselheiros e junto à comunidade. Essa dinâmica compromete as boas práticas de
governança institucional, que valorizam a transparência, a equidade e o
respeito às diferentes perspectivas. No contexto de uma universidade pública
federal, onde os recursos humanos e financeiros são provenientes do erário e a
missão é servir à sociedade, a adoção de práticas inadequadas de governança
pode ter consequências graves. Além de comprometer a qualidade das decisões,
pode levar a escolhas que não refletem o interesse coletivo, mas sim os interesses
de grupos específicos. Tais práticas contrariam os princípios constitucionais
da administração pública, como a impessoalidade, a moralidade e a publicidade,
além de violar diretrizes de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da
União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU).
Para
minimizar esses riscos no Colegiado Superior, é essencial que o presidente do
conselho atue com moderação e neutralidade, evitando recomendar votos ou se
posicionar de forma assertiva antes de ouvir todos os membros ou após o término
das discussões. A votação deve ser realizada de forma independente, sem
pressões ou influências, e o presidente deve votar por último, garantindo que
sua decisão não influencie indevidamente os demais. Além disso, é fundamental
fortalecer a independência dos conselheiros, assegurando que os membros
nomeados pelo reitor sejam vistos como defensores do interesse maior da
universidade, e não como representantes de grupos específicos.
Em
síntese, a governança de uma universidade pública federal deve pautar-se pela
transparência, pela ética e pelo respeito às diferentes perspectivas,
especialmente no âmbito de um Colegiado Superior. A adoção de boas práticas,
alinhadas às normativas nacionais e internacionais, é essencial não apenas para
preservar a integridade institucional, mas também para minimizar conflitos
éticos e promover uma cultura de integridade. Tais medidas garantem que as
decisões sejam tomadas em benefício de toda a comunidade acadêmica e da
sociedade como um todo, fortalecendo a confiança no interesse público e no
papel das universidades como pilares do desenvolvimento social.